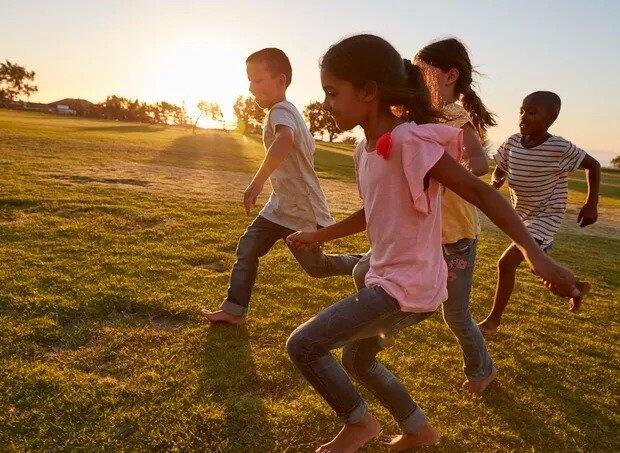Ronildo Rodrigues dos Santos
Cientista Social
No dia 15 de outubro, o Brasil celebra o Dia dos Professores. A data, instituída em homenagem à Lei de 1827, que criou as primeiras escolas de ensino elementar do país, nasceu como um gesto de reconhecimento àqueles que dedicam a vida à formação de gerações. Mas também deveria ser, sobretudo, um lembrete das responsabilidades do Estado com a educação pública e com quem a sustenta. Quase dois séculos depois, o que resta dessa promessa? Ainda temos motivos para comemorar ou, mais do que nunca, razões para lutar?
A história da educação brasileira é inseparável da história das desigualdades. Desde o período colonial, o ensino foi privilégio de poucos: dos filhos das elites, dos que podiam pagar pela instrução, dos que se encaixavam no modelo excludente imposto por uma lógica colonial e racista que moldou nossas instituições. A escola, que poderia ter sido um instrumento de emancipação, foi usada como mecanismo de controle social. Nesse cenário, o professor se tornou, muitas vezes, uma figura de resistência silenciosa, aquele que, mesmo com pouco, ousava ensinar aos marginalizados o direito de pensar. Paulo Freire já nos lembrava que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. Essa visão transformadora sempre colocou o educador no centro da luta por uma escola pública, democrática e libertadora.
Desde Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, pensadores que sonharam com um sistema educacional inclusivo e republicano, o Brasil se debate entre o ideal de uma educação universal e a prática de uma política excludente. Darcy afirmava que “a crise da educação no Brasil não é uma crise; é um projeto”, denunciando que a desigualdade educacional não é acidental, mas estrutural. Florestan Fernandes reforçou esse diagnóstico ao mostrar que a escola brasileira reproduz a lógica de classes e mantém as distâncias entre os que dominam e os que são dominados. O professor, nesse contexto, é aquele que tenta quebrar o ciclo da reprodução social, abrindo frestas de consciência crítica num sistema que insiste em naturalizar a exclusão.
Nas últimas décadas, o trabalho docente tem sido alvo de um processo profundo de precarização. Os baixos salários, a falta de infraestrutura, as jornadas exaustivas e o adoecimento físico e mental se tornaram rotina. O professor brasileiro, especialmente o da rede pública, precisa lidar com salas superlotadas, violência simbólica e institucional, desrespeito e um acúmulo de tarefas que extrapola o ato de ensinar. As reformas educacionais recentes, travestidas de modernização, ampliaram a cobrança por resultados sem garantir as condições para alcançá-los. Como lembraria Gramsci, o educador é um “intelectual orgânico”, alguém que atua no terreno das ideias e das consciências, mas cuja força depende do reconhecimento social e material de seu trabalho. Quando esse reconhecimento é negado, o projeto de emancipação também se fragiliza.
A precarização material vem acompanhada de uma desvalorização simbólica. O discurso de que os professores são “heróis” esconde uma contradição cruel: a sociedade os exalta no discurso, mas os negligencia na prática. No imaginário popular, o professor deveria ser aquele que “ama o que faz”, como se o amor fosse suficiente para pagar as contas e sustentar a dignidade profissional. Paulo Freire foi duramente atacado por afirmar que “ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”, uma frase que denuncia o medo que certos setores têm da educação como diálogo, e não como doutrinação. O que há, de fato, é um incômodo com a escola que ensina a pensar. E pensar, num país desigual, é sempre um ato de subversão.
Ainda assim, a história da educação brasileira é também a história da resistência dos professores. Desde as greves do magistério nos anos 1970, que enfrentaram a ditadura e reivindicaram democracia, até os atuais movimentos por piso salarial, autonomia pedagógica e respeito, os docentes mostram que ensinar é, em si, um ato político. Como escreveu Eduardo Galeano, “muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, pode mudar o mundo”. É exatamente isso que os professores fazem diariamente: sem palanques, sem poder, mas com coragem e esperança. Freire dizia que “a esperança não é um ato de teimosia, mas um modo de lutar”, e talvez essa seja a frase que melhor define a docência brasileira.
Valorizar o professor, portanto, não é apenas aumentar salários, embora isso seja urgente e indispensável. É garantir condições dignas de trabalho, formação continuada, liberdade de cátedra e participação nas decisões sobre políticas educacionais. É reconhecer que a educação pública não é um favor do Estado, mas um direito do cidadão. Celebrar o Dia dos Professores é, antes de tudo, um ato político: é reafirmar que sem educação crítica, não há cidadania plena; e sem professores valorizados, não há educação de qualidade. Num país que ainda luta para garantir o básico, o maior gesto de homenagem não está nas flores ou nos discursos, mas no compromisso coletivo de reconstruir a dignidade de quem ensina. Porque cada sala de aula é também um território de resistência e todo professor, como diria Freire, é um guardião da esperança.