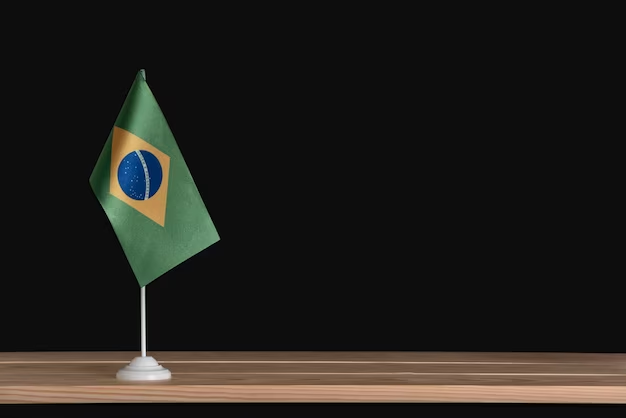Ronildo Rodrigues dos Santos
Cientista Social
A história recente da Venezuela não cabe em rótulos fáceis nem em slogans apressados. Ela é feita de camadas, de continuidades incômodas e rupturas incompletas, de promessas que floresceram e de tragédias que se anunciaram aos poucos, como um céu que escurece antes da tempestade. Muito antes do chavismo, o país já carregava no corpo as marcas profundas de uma dependência histórica. O Estado venezuelano do século XX foi moldado sob a lógica da renda petrolífera, essa dádiva ambígua que, ao mesmo tempo em que enriqueceu cofres, empobreceu instituições. O petróleo virou coluna vertebral e calcanhar de Aquiles. Como bem sugeriu Eduardo Galeano, a América Latina sangrou por veias abertas; na Venezuela, o ouro negro escorreu mais para fora do que para dentro, alimentando elites, corroendo a democracia e naturalizando uma desigualdade estrutural que parecia parte da paisagem.
O bipartidarismo que dominou o país por décadas prometeu estabilidade, mas entregou cansaço. Acción Democrática e COPEI transformaram a política em um ritual previsível, distante das ruas e surdo aos gritos que vinham dos bairros populares. O Caracazo, em 1989, não foi apenas um levante contra o aumento do custo de vida; foi um estalo seco, o som de algo se quebrando no imaginário nacional. Ali, o pacto social implodiu. A repressão estatal, brutal e sem pudor, abriu espaço para a militarização da política e para uma crise de legitimidade que pavimentou o caminho de Hugo Chávez. Ele surgiu, para muitos, como resposta ao colapso, quase como um personagem que entra em cena quando o roteiro já não convencia ninguém.
Eleito em 1998, Chávez não apenas venceu uma eleição; inaugurou uma narrativa. A nova Constituição de 1999 redesenhou o Estado, e o bolivarianismo se apresentou como um projeto de soberania, nacionalismo e enfrentamento ao imperialismo. O “socialismo do século XXI” soava, ao mesmo tempo, ousado e inconcluso. Chávez falava como quem conversa, gesticulava como quem sente, governava como quem lidera um ritual coletivo. Sua força simbólica, como observam Cristina Marcano, Alfredo Serrano Mancilla e John M. Ackerman, residia menos na coerência teórica e mais na capacidade de devolver dignidade política aos historicamente invisibilizados.
Houve, sim, conquistas reais. As missões sociais ampliaram o acesso à saúde, à educação e à moradia; a pobreza recuou; direitos básicos deixaram de ser privilégio. Para milhões, o Estado finalmente bateu à porta. Michael Lebowitz destaca que ali existiu um esforço concreto de construção de poder popular, ainda que perigosamente ancorado na renda petrolífera. E é justamente aí que o brilho começa a ofuscar. A dependência extrema do petróleo permaneceu, a diversificação econômica ficou pelo caminho, as instituições foram sendo tensionadas, dobradas, às vezes contornadas. O personalismo cresceu, a máquina estatal se confundiu com o projeto político, e a crítica passou a ser tratada como ameaça.
A morte de Chávez abriu um vazio difícil de preencher. Nicolás Maduro herdou o cargo, mas não o carisma, nem a capacidade de mediação. A continuidade virou rigidez. A crise econômica se aprofundou, o conflito político se radicalizou e a legitimidade escorreu pelos dedos. O madurismo, distinto do chavismo original, passou a se sustentar mais pelo controle do que pela persuasão. Hiperinflação, corrupção sistêmica, êxodo em massa e uma crise humanitária profunda passaram a definir o cotidiano. O Estado, antes inflado, tornou-se disfuncional; a política, um campo minado.
É nesse ponto que a ação dos Estados Unidos deixa de ser pano de fundo e passa a ser parte ativa do drama. Sob o discurso recorrente da “defesa da democracia”, Washington optou por uma estratégia de cerco: sanções severas, isolamento diplomático, tentativas explícitas de deslegitimação do governo e apoio aberto a projetos de mudança de regime. Trata-se de uma velha coreografia imperial, conhecida na América Latina, que pouco se importa com os custos sociais. As sanções não atingem abstrações; atingem remédios, alimentos, empregos e a vida cotidiana de um povo já exaurido. Ao invés de fortalecer a democracia, aprofundaram o colapso do Estado e forneceram ao governo Maduro o álibi perfeito para endurecer ainda mais.
A disputa pelo petróleo venezuelano, travestida de cruzada moral, expõe o cinismo geopolítico. Estados Unidos, China e Rússia jogam xadrez com um país real, habitado por pessoas reais. Entre a narrativa da “ditadura a ser derrotada” e a do “anti-imperialismo a qualquer custo”, a sociedade venezuelana ficou espremida. Como alertaria Galeano, quando os grandes brigam, os pequenos pagam a conta, e pagam caro.
Diante desse cenário, cresce o coro que aposta numa ascensão automática da direita como solução mágica. Mas a história ensina cautela. Um Estado em ruínas não se reconstrói com choques bruscos, privatizações apressadas ou revanche política. O risco de trocar um autoritarismo por outro é concreto. Milícias, violência social e nova dependência externa rondam qualquer transição mal conduzida. O problema central não é o rótulo ideológico, mas a fragilidade institucional herdada de décadas de erros acumulados.
O futuro da Venezuela exige uma releitura crítica do chavismo: nem a negação absoluta, nem a repetição dogmática. Trata-se de recuperar o compromisso com justiça social, soberania e democracia, sem romantizar o passado nem naturalizar o autoritarismo do presente. Reconstruir o Estado, reconciliar a sociedade e redefinir a relação entre mercado, política e soberania será um processo longo, tenso e incerto. Mas, como toda história latino-americana ainda em disputa, a venezuelana segue aberta, pulsando, ferida, resistente, à espera de um desfecho que, apesar de tudo, ainda pode ser escrito pelo próprio povo.