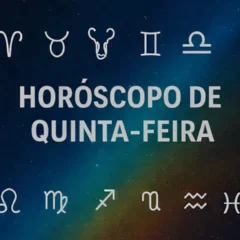É assustador pensar que, em plena era da informação, ainda convivemos com um fenômeno que se espalha mais rápido que qualquer notícia oficial: as fake news. Mesmo com tanto acesso à internet, cursos de checagem de fatos e alertas constantes nos telejornais, milhões de pessoas continuam acreditando em conteúdos falsos, compartilhando-os em grupos de família e redes sociais como se fossem verdades absolutas. Mas afinal, por que isso ainda acontece?
A resposta não está apenas na ingenuidade de quem lê, mas também em mecanismos psicológicos, sociais e até econômicos que alimentam a propagação dessas narrativas. Entender as razões pelas quais tanta gente ainda cai em fake news é o primeiro passo para se blindar contra esse bombardeio diário de desinformação.
Fake news e a vulnerabilidade emocional
Grande parte das fake news não é construída para informar, mas sim para mexer com emoções fortes — medo, raiva, indignação ou esperança. Estudos da Fundação Getulio Vargas (FGV) mostram que conteúdos com carga emocional intensa têm até 70% mais chances de serem compartilhados do que notícias neutras. Esse efeito psicológico explica por que manchetes alarmistas viralizam em segundos: elas criam a sensação de urgência e despertam o impulso de “avisar” outras pessoas.
Quem nunca recebeu no grupo da família mensagens como “Compartilhe antes que apaguem!”? Essa manipulação emocional é um dos principais motores da disseminação de notícias falsas.
Como a desinformação se aproveita da falta de tempo
Vivemos na chamada era da velocidade. As pessoas raramente leem além do título, e segundo uma pesquisa do Datafolha, 62% dos brasileiros admitem compartilhar links sem abrir o conteúdo completo. Essa pressa cotidiana abre espaço para que fake news se infiltrem sem serem questionadas.
Plataformas internacionais como o Pew Research Center reforçam o dado: globalmente, 6 em cada 10 adultos não verificam a fonte antes de compartilhar informações. O imediatismo, combinado com a sobrecarga de conteúdo digital, cria o cenário perfeito para a desinformação prosperar.
O papel da bolha digital e dos algoritmos
Outro ponto crítico é o funcionamento das redes sociais. Elas não foram feitas para priorizar a verdade, mas sim o engajamento. Os algoritmos selecionam conteúdos que reforçam crenças e preferências do usuário, criando a chamada “bolha informacional”.
Na prática, se alguém acredita que determinada teoria é real, o algoritmo tende a mostrar mais postagens semelhantes, fortalecendo ainda mais a convicção. Essa repetição cria uma falsa sensação de consenso, o que faz com que fake news pareçam confiáveis. Segundo estudo do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS-Rio), esse ciclo pode manter pessoas expostas às mesmas informações enganosas por semanas seguidas.
Falta de educação midiática
Outro fator decisivo é a carência de preparo para lidar com a avalanche de informação digital. O Brasil ainda engatinha quando se trata de educação midiática, e isso deixa grande parte da população vulnerável. A UNESCO, em relatório global, defende que escolas e governos precisam investir em alfabetização midiática para que cidadãos consigam identificar fontes confiáveis, verificar dados e questionar conteúdos suspeitos.
Enquanto isso não acontece, fake news encontram terreno fértil, principalmente entre públicos menos familiarizados com o ambiente digital, como idosos ou pessoas com baixa escolaridade.
Fake news como arma política e econômica
Além de apelar às emoções, as fake news também são usadas de forma estratégica. Políticos, grupos de interesse e até empresas se aproveitam da viralização rápida para difundir narrativas que os favorecem. No Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já apontou que, em períodos de eleição, a circulação de notícias falsas cresce de maneira exponencial.
Economicamente, há ainda quem lucre diretamente com cliques em sites de fake news. Manchetes sensacionalistas atraem milhões de acessos e, consequentemente, receita em anúncios. Ou seja: quanto mais falsa e polêmica a notícia, maior o retorno financeiro para quem a cria.
A confiança no remetente
Um dos aspectos mais traiçoeiros das fake news é que elas geralmente chegam de pessoas próximas: amigos, parentes, colegas de trabalho. Esse fator cria uma confiança automática. Quando uma informação vem de alguém conhecido, a tendência é acreditar sem questionar.
Isso explica por que grupos de WhatsApp familiares são ambientes tão propícios para disseminação de boatos. Segundo levantamento da Universidade de São Paulo (USP), 47% dos brasileiros confiam mais em informações recebidas de pessoas próximas do que nas checadas por veículos de imprensa.
A dificuldade de admitir o erro
Por fim, existe o fator orgulho. Quando alguém acredita em uma fake news e a compartilha, admitir depois que caiu em uma mentira não é fácil. Muitas pessoas preferem continuar defendendo a narrativa, mesmo diante de evidências, para não se sentirem “enganadas”. Esse mecanismo psicológico fortalece ainda mais a permanência da desinformação.
No fim das contas, não é apenas a mentira em si que preocupa, mas a forma como ela se enraíza no comportamento humano. Fake news não sobrevivem sozinhas: elas encontram no emocional, no descuido, nos algoritmos e até no orgulho humano a força que precisam para continuar existindo.
O combate à desinformação depende de escolhas individuais e coletivas. Ler além da manchete, checar a fonte, desconfiar de conteúdos que apelam ao medo ou à raiva e buscar referências confiáveis já são passos que podem mudar esse cenário.