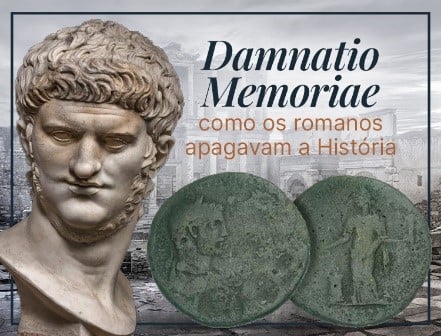

No Império Romano, a Damnatio Memoriae (condenação da memória) corporificou-se como mecanismo que, para além da pena capital, punia o indivíduo por meio do apagamento, configurando um exílio ontológico e um instrumento de supressão político-simbólica, destinado sobretudo a obliterar do imaginário coletivo aqueles cujos atos e governos se tornavam insuportáveis aos cânones da elite senatorial ou às exigências da ordem estatal. Porém, Imperadores com reinados marcados por excessos, tirania ou instabilidade moral exemplificam a aplicação desse mecanismo: Geta, assassinado pelo irmão Caracala em 211 d.C., teve nomes, efígies (Imagem, retrato) e inscrições meticulosamente eliminados; Domício Cômodo, exterminado em 192 d.C., sofreu a eliminação de todos os vestígios de autoridade e crueldade e, outrossim, Nero, embora sua memória tivesse sido cuidadosamente construída, foi vilipendiado por senadores e historiadores, que destruíram monumentos, moedas e registros.
Sob o império da pós-verdade, assiste-se na atualidade, à metamorfose desse instituto, mantendo-se a essência das práticas de silenciamento político, judicialização seletiva e manipulação informacional, demonstrando a permanência do poder simbólico na configuração da memória coletiva. Não raro, sob o véu da neutralidade, o aparato jurídico introjeta-se no território sacrossanto de outros poderes, funcionando como instrumento de exclusão do dissenso e hostilização de adversários, agindo à sombra de um “JUSTIÇAMENTO MASCARADO DE LEGALIDADE”.
Cumpre, entretanto, ponderar que tais procedimentos refletiam consequências inerentes aos excessos e arbitrariedades de tiranos do passado, de modo que nesse ponto, em nada se coadunam com o presente. Inobstante, o paralelo aqui proposto é estritamente alusivo à estratégia e à potencialidade de um sistema, capitaneado por um prócere (comandante), ao que parece, altamente consciente de sua impopularidade e encastelado na antessala do pretório Excelso (tribunal ou órgão de suprema autoridade), para apagar opositores em conformidade com seu alvedrio (vontade própria), seja pelas vias institucionais, seja mediante a manipulação do registro histórico.
Em 1984, George Orwell antecipou com extraordinária lucidez o axioma que hoje estrutura as governanças informacionais contemporâneas: “Quem controla o passado, controla o futuro; quem controla o presente, controla o passado”. O denominado Ministério da Verdade emerge como uma luva no cenário hodierno, ao passo que essa instituição distópica, simbolizava o aparato totalitário de domínio sobre a informação e a memória coletiva. Sua função transcende a mera produção de propaganda oficial, estendendo-se à manipulação sistemática de registros históricos, à alteração de documentos e à construção de uma narrativa oficial que se submete integralmente à ideologia do Partido. Não se trata de busca pela verdade factual ou pelo registro objetivo da realidade, mas da imposição de uma versão oficial, cuidadosamente calibrada para sustentar a autoridade absoluta do poder vigente e para reconfigurar, de maneira permanente, a percepção do passado, do presente e, por conseguinte, do futuro na consciência coletiva da população, mantendo-os no obscurantismo, entorpecimento e inocência de uma vestal.
A Damnatio memoriae transcende a mera punição póstuma, erigindo-se como operação calculada de reconfiguração do tecido simbólico da sociedade, que ultrapassa a simples destruição de efígies e inscrições epigráficas para abarcar a reescrita dos anais, a condenação moral e a construção de uma narrativa histórica instrumentalizada para legitimar sucessores e reafirmar a autoridade do Estado. Projetada sobre a prisão e a tentativa deliberada de apagar a memória de um opositor, tal prática revela-se de risco inexorável, o gesto de silenciamento, longe de extinguir a presença do indivíduo no imaginário coletivo, pode inadvertidamente soerguer sua figura, em mito, conferindo-lhe aura de resistência ou de liderança incontestável.
Hoje, em pleno século XXI, a reatualização dessa prática assume contornos menos visíveis, todavia não menos violentos, ela se manifesta no seio das instituições judiciais, quando o direito cede lugar ao arbítrio e a jurisdição se transmuta em instrumento de exclusão política de opositores.
O poder moderno, como advertiu Foucault (1975) em sua obra, Vigiar e Punir (1975), não é bruto, mas capilar, desenvolvendo a noção de que o poder na modernidade não atua apenas de forma centralizada e repressiva, mas disperso, difuso e presente em todas as relações sociais, atravessando instituições, corpos e práticas cotidianas. Ele se exerce no interior das instituições, sob o cariz da normalidade. A judicialização ideológica, Lawfare, sobrenada como arma privilegiada para elidir opositores, convertendo tribunais em arenas políticas. A prisão, nesse contexto, não visa apenas restringir a liberdade física: ela significa, constrói narrativa, performa a autoridade do sistema. Essa ordenação conceitual, pode ser revivificada não mais pela cinzelagem em pedra, mas pelos dispositivos do poder judicial e da mídia hegemônica. Como observa o notório filósofo, o poder moderno opera menos pela supressão física e mais pela produção do apagamento discursivo, relegando o algoz ao estatuto do inominável.
O espectro da justiça, símbolo de equidade e imparcialidade, tem sido invocado, nos dias que correm, como retórica legitimadora de práticas políticas enviesadas, revestidas de juridicidade. A judicialização ideológica emerge, assim, como uma mutação do Direito em instrumento de coerção seletiva, servindo à aniquilação simbólica e prática do adversário. A isso se alia um revisionismo institucional que opera nos moldes de uma nova Damnatio memoriae, em que o oponente político não apenas é silenciado, mas excluído da narrativa histórica oficial.
Ao exibir a prisão como espetáculo, alimentado por uma mídia servil, o poder não se limita a punir, ele educa pelo medo, reforçando a crença inelutável e vã de uma resistência, pois o destino já está traçado pelo governante. Doravante, a justiça deixa de ser locus da imparcialidade e se torna teatro ideológico, onde a sentença já está inscrita antes do julgamento. O novo regime de Damnatio não apenas oculta, mas reescreve a história: converte opositores em inimigos internos, substitui a pluralidade pelo uníssono, e, assim, assegura a perpetuação de um sistema cuja lógica não é a justiça, mas a hegemonia.
A questão central não reside apenas na aplicação da lei, mas na manipulação hermenêutica que, a sombra de uma aparente tecnicidade, oculta decisões permeadas por seletividade ideológica. Como bem observou Carl Schmitt, “quem decide sobre o estado de exceção é soberano” (Teologia Política, 1922), e quando o Judiciário se coloca acima do princípio da legalidade estrita, torna-se guardião não da ordem jurídica, mas da ordem política de ocasião. O fenômeno, descrito por estudiosos como judicialização da política (Tate & Vallinder, 1995; Streck, 2014), assume hoje uma face mais perversa, manifestando-se na censura, no apagamento e na interdição de vozes dissidentes, tudo isso na tutela de uma roupagem sub-reptícia (dissimulada) de decisões judiciais que ocultam sua intenção de suprimir opiniões contrárias.
Ao interditar discursos, abolir registros digitais, perseguir narrativas ou restringir o espaço público de determinados atores, o Judiciário atualiza a lógica da Damnatio memoriae: não basta refutar o adversário, é necessário banir-lhe a existência simbólica. Como assinala Michel Foucault em A Ordem do Discurso (1971), toda sociedade controla e seleciona os discursos que circulam, porém quando o controle se converte em exclusão jurídica, a própria democracia é corroída em seu fundamento pluralista.
Não se trata de negar a função contramajoritária dos tribunais nem a imprescindibilidade do controle constitucional, mas de advertir contra o risco daquilo que Luigi Ferrajoli chama de “constitucionalismo abusivo” (Principia Iuris, 2007), quando a autoridade judicial, extrapolando os limites normativos, transforma-se em poder constituinte negativo, capaz de suspender direitos, interditar memórias e definir o regramento da história contemporânea.
Os resultados dessa dinâmica são devastadores: a aniquilação do dissenso empobrece o debate público, o arbítrio mina a legitimidade institucional e a democracia reduz-se a um formalismo vazio, onde o opositor político não é apenas derrotado, mas condenado ao esquecimento. Contra essa tendência, urge recuperar a lição de Hannah Arendt (A Condição Humana, 1958): “a pluralidade é a essência da vida política, e sua destruição equivale a destruir a própria política”.
Ao que parece, a Damnatio memoriae recrudesce como uma fênix, não mais sob a ótica de práticas pretéritas como o apagamento físico e de inscrições, mas adornadas pela caneta que emana das decisões judiciais, cuja marca central é a seletividade, transformando o instrumento jurídico em artifício de poder capilar. Se o direito não quiser sucumbir ao arbítrio, será necessário restabelecer a supremacia da legalidade, a neutralidade institucional e o compromisso com a preservação do espaço público plural. Do contrário, estaremos diante de um paradoxo inquietante: a justiça, concebida como último refúgio contra a tirania, converter-se-á em seu mais sofisticado instrumento.
Referências Bibliográficas
ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007 [1958].
FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris: Teoria del diritto e della democrazia. Roma-Bari: Laterza, 2007.
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1996 [1971].
SCHMITT, Carl. Teologia política. Belo Horizonte: Del Rey, 2006 [1922].
STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
TATE, C. Neal; VALLINDER, Torbjörn (orgs.). The Global Expansion of Judicial Power. New York: NYU Press, 1995.
Prof. Weslley Danny – Doutor e Mestre, graduado em Filosofia, História, Letras, Biologia e Enfermagem. No que tange o segmento humanístico compila pós-graduações nas seguintes áreas: (ciência política), (filosofia, sociologia e ciências sociais), (ética e filosofia política) e (história e antropologia).




